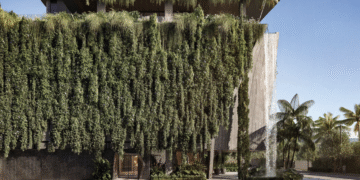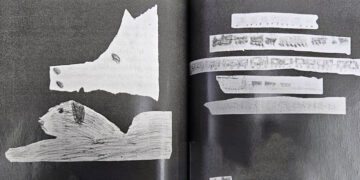Refleti muito antes de começar a escrever este texto. Me dominava a incerteza por ser um tema novo em minhas pesquisas, um mundo no qual ainda estou lentamente adentrando. Mas foi quando pensei, como não tenho propriedade para falar sobre uma coisa a qual vivencio todos os dias? Como não conseguiria falar sobre o que é ser mulher na cidade, o que é ocupar seus espaços? Quem de nós, mulheres, não consegue falar sobre o que é trocar de rota no meio do percurso, fazer voltas e caminhar muito mais para evitar aquele lugar escuro? Quem de nós, mulheres, não consegue falar sobre o que é escolher que roupa vestir para se sentir menos exposta nos trajetos urbanos? Quem de nós, mulheres, não conseguiria relatar a vulnerabilidade que sofremos todos os dias ao percorrer os espaços públicos?
Contudo, para me ajudar neste percurso, escolhi estudiosas e pesquisadoras que são referência quando se fala em mulheres e cidades. Utilizo, em especial, o trabalho da Marina Harkot (2018) cuja trajetória foi tragicamente interrompida quando exercia justamente o que levanto neste texto: o nosso direito, como mulheres, de ocupar e viver a cidade.

Não é novidade que a questão de gênero permeia toda a nossa organização como sociedade e sistema, refletindo diretamente a dualidade dos papéis femininos e masculinos e seus mecanismos de opressão de gênero. No espaço urbano não é diferente. Como a arquiteta Sônia Calió (1997) afirma, não importa onde estejamos, no mercado ou em casa, sozinhas ou casadas, chefes de família, de qualquer idade, cor, classe social, sofremos uma segregação fundada na ideologia patriarcal, que no espaço é traduzida pela dicotomia doméstico/social, privado/público, mulheres/homens.
Essa relação entre o ambiente urbano e doméstico e os papéis sexuais acabou por confinar as mulheres à esfera doméstica. Ou seja, o mundo público, político e econômico fica à critério dos homens enquanto o privado, íntimo e doméstico cabe à mulher.
Muitos dos roteiros e destinos aparentemente naturais escolhidos por nós são, na verdade, “estratégias de enfrentamento” que adotamos para nos mantermos seguras.
Lar expandido
Marina Harkot (2018) cita Dumont Franken (1977) quando afirma que a casa exercia um papel de refúgio, um lugar protegido do ambiente agressivo da cidade – o espaço no qual as mulheres se sentiriam seguras. A rua, por outro lado, seria aquele lugar onde a mulher estaria constantemente atenta, se sentindo ameaçada. Dessa forma, a circulação feminina se limitaria historicamente aos espaços da cidade onde estão os bens e serviços que dizem respeito ao cuidado da família como mercados, feiras, farmácias, escolas, ou seja, espaços que fazem parte do trabalho reprodutivo. Calió (1997) chama de “lar expandido” estes lugares destinados às mulheres na cidade.
Em meio à essa histórica segregação, ainda hoje nos vemos, muitas vezes, como intrusas no meio urbano, principalmente quando saímos da rota do “lar expandido”. Nesse sentido, Gil Valentine (1989) corrobora com o cenário ao afirmar – ainda na década de 80 – que nós, mulheres, exercitamos diariamente uma espécie de negociação do uso do espaço público. Muitos dos roteiros e destinos aparentemente naturais escolhidos por nós são, na verdade, “estratégias de enfrentamento” que adotamos para nos mantermos seguras.
Nesse sentido, Harkot (2018) afirma que questões, muitas vezes consideradas de pouca importância no âmbito urbanos, são vivenciadas de maneira potencializada quando se é mulher, tanto temas relacionados à própria infraestrutura e organização urbana, como a falta de iluminação nas ruas, a proliferação de espaços baldios, itinerários de ônibus mal planejados, quanto políticas públicas incluindo até mesmo o horário verão que aumentava a vulnerabilidade das trabalhadoras que saem cedo de casa pois, quando ativo, fazia com que os dias clareassem mais tarde e as obrigava à fazer seus percursos matinais no breu.
Enfim, esses são apenas alguns exemplos que servem para ilustrar como o simples fato de sermos mulheres, segundo Terezinha Gonzaga, temos nossa mobilidade e utilização do espaço público, e também privado, inferidos, o que se acentua ainda mais quando nos tornamos mães. Essas situações fazem parte de algo que ela chama de “violência urbana”.
Ainda sobre esse tema, hoje encontrei por acaso uma postagem no instagram de um perfil muito conhecido de jornalismo e reportagens, que trazia dicas de segurança para mulheres em seus trajetos sozinhas nas ruas. Algumas delas eram: evitar usar cabelo solto (melhor coque para não ser puxada), carregar a mochila ou bolsa na parte da frente do corpo também para não ser puxada, não usar fone de ouvido para ficar atenta ao entorno, levar na bolsa algum objeto, como guarda-chuva, para usar como proteção.

Parece cômico se não fosse real
Listando assim, ponto por ponto, fica muito claro que arquitetamos diariamente inúmeras estratégias para usar o espaço público, que vão desde o percurso, até a roupa que vestimos, as coisas carregamos na mochila, a forma como arrumamos o cabelo, etc.
Diante disso, como acreditar que temos o mesmo acesso à cidade do que os homens, que nos apropriamos da mesma forma?
Esse questionamento é muito necessário e urgente porque há uma construção que vem sendo alimentada historicamente por trás dos nossos medos e inseguranças urbanos e que, em pleno século XXI, ainda não é reparada por políticas públicas e projetos urbanos. E isso se dá justamente porque as nossas cidades são pensadas e desenhadas por uma porção da população que não vive as vulnerabilidades que nós vivemos no dia-a-dia do espaço público.
Como Harkot afirmou, é muito escrachado o caráter não-neutro do planejamento urbano e o resultado disso são espaços urbanos que reproduzem as dinâmicas da sociedade
Em relação a isso, a arquiteta Daniela Sarmento (2018) cita o espanhol Josep Maria Montaner ao afirmar que a estrutura urbana se mantém e se transforma com prioridade para atender a demanda do capital e as prioridades majoritariamente masculinas, considerando que é desenhada para atender o fluxo dos homens, em idade média, no auge de sua capacidade produtiva, com trabalho estável e bem remunerado que lhe permite ter carro, deixando as demandas das mulheres, jovens, idosos, crianças e deficientes físicos à margem das prioridades do investimento público.
Essa situação é o que a mexicana Paula Villagrán (2014) considera como uma dominação de gênero na cidade que atravessa temas como mobilidade, transporte público, medo da violência física nos espaços urbanos, entre outros. Ou seja, assim como Harkot afirmou, é muito escrachado o caráter não-neutro do planejamento urbano e o resultado disso são espaços urbanos que reproduzem as dinâmicas da sociedade. O poder e opressão exercidos pelos homens sobre as mulheres são vistos também no espaço público.
O olhar de gênero sob o planejamento urbano é fundamental pois trabalha as demarcações entre a esfera pessoal e a esfera política, o território público e o doméstico, procurando reconhecer a diversidade cultural como chave para repensar o planejamento
Mas, então, como podemos mudar isso?
Quando se trata de planejamento e construção dos espaços urbanos, Paula Santoro no seu texto “Gênero e planejamento territorial: uma aproximação” (2007), afirma que o olhar de gênero sob o planejamento urbano é fundamental pois trabalha as demarcações entre a esfera pessoal e a esfera política, o território público e o doméstico, procurando reconhecer a diversidade cultural como chave para repensar o planejamento. Ou seja, não somos todos iguais e, portanto, nossas necessidades urbanas e de infraestruturas são diferentes.
Para isso é preciso, portanto, sair de um raciocínio generalista e quantitativo e se aproximar de micro realidades, atentas a entender o olhar e comportamento da mulher e de outras camadas excluídas na cidade.
No “Guia de urbanismo sob perspectiva de gênero” (2008) organizado pelas espanholas Marta Román e Isabela Velázquez, são apontados quatro pontos importantes que podem contribuir com a mudança dessa realidade. São eles:
- Levar em conta as mulheres: conhecer a distinta forma de habitar e de utilizar a cidade em função do gênero.
- Contar com as mulheres: assegurar a presença das mulheres em todos os âmbitos socias e políticos. (Enalteço aqui a importância das campanhas “mulher vota em mulher”).
- Valorizar e dar espaço para atividades que tradicionalmente ficam a cargo das mulheres: entender e dar valor às tarefas do lar e do cuidado com as pessoas dependentes.
- Incorporar como assunto público as novas necessidades das mulheres: a conciliação entre o trabalho doméstico e trabalho fora de casa deixa de ser um assunto privado de cada família e se converte em tema público.
Esses quatros pontos nos mostram o que muitas pesquisadoras do assunto, como Terezinha Gonzaga, têm levantado. Falar sobre essas disparidades não é apenas tratar do ponto de vista dos acessos desiguais aos espaços e processos, é reconhecer que a condição vai muito além da própria produção das cidades, ela é constituinte da mesma. Nas palavras de Gouveia, no texto “Mulheres: sujeitos ocultos das/nas cidades?”, esta é uma distinção importante, porque na medida em que se atuamos apenas no plano das desigualdades de acesso estaremos trabalhando os impactos da estrutura na vida das mulheres – o que é importante, mas não o suficiente – enquanto que ao assumirmos as desigualdades de gênero como estruturadoras e dinamizadoras das cidades estaremos enfrentando a questão do poder e consequentemente dos privilégios que os homens têm com a conservação desta estrutura.
Temos um longo percurso pela frente, mas seguimos unidas, porque a cidade será, sim, toda feminista.
Diante desse panorama geral, procurei reconhecer nesse texto algumas dessas mulheres incríveis que têm se debruçado sobre o tema, seja nas pesquisas como a Marina, seja nas ruas como os movimentos feministas, seja nas atividades diárias, como a trabalhadora que enfrenta todo o dia a cidade inóspita na busca por seu sustento. Diferentes na forma de militar, juntas na mesma causa. Temos um longo percurso pela frente, mas seguimos unidas, porque a cidade será, sim, toda feminista.
*Título em alusão ao trabalho “Por onde andam as mulheres? Percursos e medos que limitam a experiência de mulheres no centro do recife” (2015) de Lúcia de Andrade Siqueira.
**As imagens que ilustram esse texto fazem parte da campanha em construção chamada “#vemporaqui”, elaborada coletivamente no curso “Vem por aqui: criando espaços mais seguros para mulheres”, patrocinado pelo CAU/SC, produzido e organizado pela Escola Livre de Arquitetura do Bloco B em parceria com a professora Paula Santoro, Larissa Lacerda e Marina Harkot.