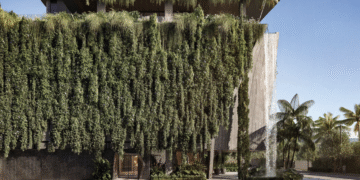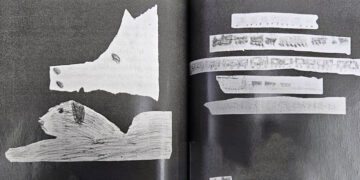Marina Kohler Harkot morreu atropelada na madrugada de sábado para domingo (8/11), por volta de meia-noite. Ela andava em sua bicicleta na avenida Paulo VI, na região do Sumaré, zona Oeste de São Paulo, quando foi brutalmente atropelada por um carro dirigido por José Maria da Costa Júnior, que não parou para prestar socorro. Marina era socióloga formada pela USP, mestra e doutoranda em Planejamento Urbano na FAU USP, e pesquisadora do LabCidade. Tinha 28 anos. Nesse post, originalmente publicado como uma newsletter especial do LabCidade, queremos falar um pouco sobre seu legado nas pesquisas de mobilidade, gênero e interseccionalidade a partir dos diversos trabalhos que ela vinha fazendo como ativista e pesquisadora.
O ArqSC publica parte do texto que pode ser lido na íntegra aqui
Quase 14 mil ciclistas morreram no trânsito brasileiro na última década, 60% dessas mortes por atropelamento — dados do SUS levantados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Já na cidade de São Paulo, só de janeiro a setembro deste ano, 24 ciclistas morreram atropelados por carros. Apesar de serem comumente jogadas na conta dos “acidentes de trânsito”, todas essas mortes não têm nada de acidentais, e tampouco são só uma questão individual ou privada. Elas não estão descoladas das políticas públicas.
Marina era contra uma lógica de justiça baseada no punitivismo, tão reducionista e despolitizada que encobre as causas do que diz combater.
A responsabilidade pelo atropelamento nunca será somente do motorista que materializou a interrupção de uma vida: a cidade e o trânsito que matam são uma escolha política, e Marina Harkot sabia disso muito bem — era contra uma lógica de justiça baseada no punitivismo, tão reducionista e despolitizada que encobre as causas do que diz combater. Para tornar a cidade segura é preciso abandonar a aceleração insaciável: estudos citados em relatório de 2018 da OMS apontam que a cada 1% de aumento na velocidade permitida para a circulação de carros, o risco de ocorrerem acidentes fatais sobe em 4%, enquanto uma redução de 5% na média de velocidade pode diminuir o número de mortes em 30%.
A política do Acelera SP de João Doria, por exemplo, foi responsável por reverter a queda no número de mortes no trânsito que a gestão Haddad havia conseguido alcançar diminuindo limites de velocidade. Para além do carro e de seu condutor, foi uma escolha política (carrocêntrica e hostil a pedestres, bicicletas e mulheres), uma escolha política que Marina viveu para combater e que a matou. Matou Marina, que queria nossas cidades feitas para nós — espaços construídos para as pessoas, e não para os carros.

Cultura de compartilhamento da cidade
Marina sabia que a cidade não é igual para todas as pessoas, por isso defendia a educação como instrumento de superação das relações de opressão estruturais (de classe, patriarcais, racistas, de gênero e sexualidade, patrimonialistas) que estruturaram também nossas cidades. A pesquisadora defendia um olhar sensível às desigualdades sócio-urbanas. Ela nos ensina que a cidade precisa se tornar um espaço compartilhado entre diversos grupos sociais, gêneros, e modais de transporte. Por isso, não se trata de construir ciclovias: elas são importantes, mas a questão de base é a urgência (vital) de se criar uma cultura de compartilhamento da cidade.
Sua morte, que aconteceu justamente no Dia Mundial do Urbanismo, deve se tornar movimento e nos incendiar na luta por cidades mais gentis, mais humanas, menos aceleradas e não violentas.
A São Paulo carrocêntrica, a São Paulo que segrega poucos ciclistas às suas escassas faixas e os mata, é uma escolha. Nossas cidades não deveriam ser lugar onde se morre debaixo de 4 pneus cantando em alta velocidade. Marina vivia o que pesquisava, pedalava porque sabia que lugar de bicicleta é na rua, e que todo mundo tem direito a pedalar. Sua morte, que aconteceu justamente no Dia Mundial do Urbanismo, deve se tornar movimento e nos incendiar na luta por cidades mais gentis, mais humanas, menos aceleradas e não violentas.
Recomendamos aqui alguns textos sobre Marina, seu trabalho e sua morte. São eles:
- Sorridente e brilhante, Marina Harkot foi vítima dos problemas que denunciava, perfil de Marina publicado no jornal Estadão, com entrevista das coordenadoras do LabCidade Paula Freire Santoro e Raquel Rolnik.
- “A Marina estava onde devia estar, na rua e no caminho escolhido por ela.” Paula Freire Santoro, que também foi orientadora e amiga de Marina, faz uma bela homenagem a ela no programa Meia Hora com o BrCidades.
- No 30º episódio do programa A Cidade é Nossa, Raquel Rolnik lembra o Dia Mundial do Urbanismo e todo o contexto político por trás da morte de Marina e de milhares de outros ciclistas (disponível em formato de vídeo e podcast).
- Leticia Lindenberg Lemos, (assim como Marina) ex-pesquisadora do LabCidade e membra da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade), amiga de Marina, escreve para o LabCidade o texto Pedale como Marina! Andar de bicicleta é uma decisão política, e é entrevistada pela revista Marie Claire na matéria Por que falar do legado de Marina Harkot é tão urgente quanto falar de sua morte.
- Por uma cidade onde mulheres sempre possam pedalar, artigo de Cecília Garcia no Pensar a Cidade (UOL), fala da relação de Marina com o cicloativismo, a importância desse cicloativismo para a vida das mulheres na cidade, e da dissertação de mestrado de Marina.
- “Ela foi atropelada por trás”, diz urbanista da USP, matéria do jornal Época, com entrevista de Paula Freire Santoro.

A experiência de viver a cidade das mulheres
Já no mestrado em 2016, com bolsa Capes, Marina sistematizou quase tudo o que já tinha sido publicado sobre gênero e mobilidade ativa por bicicleta num capítulo de sua dissertação. Ela conclui que as mulheres têm menor mobilidade (são mais imóveis), especialmente se olhamos para os modos motorizados individuais — carro e moto. São passageiras de automóvel ou usuárias de táxi. Têm viagens mais curtas em tempo e em distância e viajam mais a pé e de transporte público. Desde 1987, há uma proporção de viagens femininas maior nos deslocamentos a pé e uma supremacia masculina nas viagens com bicicleta, com uma tendência de aumento do número de mulheres a andar sobre as duas rodas. Traz autoras como Haydée Svab, que mostrou que a categoria “mulheres” não é homogênea e que os padrões de mobilidade são impactados por outras questões além do gênero, como modo de viagem, situação familiar, grau de instrução, faixa de renda familiar, quantidade e idade dos filhos das mulheres. Não estávamos sozinhas.
A partir de entrevistas qualitativas, sua pesquisa de mestrado apontou as subjetividades que impactam no uso da bicicleta como modo – que envolvem uma relação com a cidade e suas adversidades, sensação de segurança, seu cotidiano, ser mãe e número de filhos, hábitos, dimensões afetivas, culturais, prática de esportes e relação com o corpo.
Sua pesquisa revela que, para as mulheres, é muito mais complexo dar o passo inicial para usar a bicicleta. Sua dimensão corporal, da prática de atividades físicas, ou ainda, das brincadeiras de rua e do “se arriscar”, não são incentivadas (pelo contrário, são desincentivadas) desde a infância, algo diretamente ligado à socialização feminina e à domesticidade.

A baixa presença de mulheres que pedalam e a ausência de grupos e/ou políticas públicas que as incentivem diretamente, seja através de campanhas de comunicação, seja através de redes de solidariedade, também é uma questão que parece ter influência. Como apontam as discussões sobre representatividade, o poder do exemplo não é desprezível, e os efeitos de “se reconhecer” em meio aos ciclistas são importantes.
Ainda, como São Paulo definitivamente não é uma cidade amigável para o uso da bicicleta, romper a barreira do gênero parece ser um desafio que complexifica ainda mais para que mulheres pedalem. Ciclistas de ambos gêneros percebem o trânsito como sendo perigoso e como o principal ponto negativo no uso da bicicleta na cidade – especialmente se estão acompanhados de crianças, o que é mais comum entre as mulheres, geralmente as cuidadoras nos arranjos familiares. Entretanto, as ciclistas entrevistadas apontam sentir um tipo de medo que está muito mais relacionado à violência de gênero do que à violência de trânsito, e que não é considerado no desenho de políticas de ciclomobilidade: como o medo de passar por determinados locais e em horários específicos (normalmente, à noite). A dissertação de Marina Harkot está disponível na íntegra aqui.
Por que é preciso pautar a política, o ativismo, a construção coletiva
Seu mestrado também revisita políticas que podem ser implantadas e que vão na direção da normalização e popularização do uso da bicicleta, recorrendo a estratégias que ultrapassam o desenho e implantação de ciclovias e ciclofaixas – importantíssimas, especialmente, para promover uma mudança de imaginário coletiva sobre o espaço dos ciclistas na cidade, mas que definitivamente não são a única solução.
O real incentivo à intermodalidade apontado por ela envolve a instalação de bicicletários que tenham horários de funcionamento e capacidade adequada em estações e equipamentos públicos; zonas de tráfego acalmado intra-bairro; infraestrutura cicloviária que considere em seu desenho dimensões de segurança pública, escolhendo rotas que passem por ruas iluminadas, com atividade comercial que funcione no período noturno e sem pontos cegos; políticas de educação e comunicação, com incentivo ao uso da bicicleta desde a infância e campanhas de comunicação que tenham como público-alvo as mulheres – e não o intrépido ciclista com roupas esportivas, ou o executivo de terno que vai de bicicleta até o trabalho. Marina abre um horizonte de possibilidades para incentivar o uso da bicicleta em grandes cidades e, sobretudo, entre grupos sub representados como as mulheres. Se quisermos mudar este cenário, há de se pensar para além de soluções simplistas.

O acompanhamento da política urbana e de mobilidade permeou vários de seus textos, que criticavam a proposta de Plano Cicloviário de São Paulo, o compartilhamento de bicicletas amarelas restrito a uma área da cidade, ou mesmo análises sobre os primeiros resultados da Pesquisa Origem e Destino de 2017 .
Seus trabalhos sobre mobilidade e enfoque em gênero não se restringiram à mobilidade por bicicleta, mas também à pé, vide artigo com Mateus Humberto Andrade e Mariana Gianotti, que sintetizamos neste post em nosso site e que terminou nos aproximando do Victor Andrade e Clarisse Cunha Linke, organizadores do livro e do LabMob do Rio de Janeiro. Victor segue um interlocutor do LabCidade, foi banca no mestrado em Planejamento Urbano e Regional na FAU-USP de Marina.
Abordagem interseccional
Em 2018, Paula Santoro, Marina Harkot e Letícia Lemos coordenaram a aplicação da pesquisa sobre a segurança na mobilidade dos estudantes com enfoque em gênero, aplicada para a Região Metropolitana de São Paulo. Para saber sobre a pesquisa, um resumo do caso de São Paulo está em Santoro & Harkot (2020), um artigo em inglês apresentado no Seminário Crime and Fear in Public Spaces em 2018, e este texto em nosso site sobre o processo de feitura da pesquisa. Uma versão em espanhol está aprovada para uma publicação de artigos selecionados apresentados no Tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio na UNAM, no México, onde Marina apresentou o trabalho.
A nova pesquisa deu continuidade ao que sinalizava sua investigação de mestrado. Mostrou que, se a violência patrimonial é a que atinge tanto homens quanto mulheres, a violência de gênero restringe a mobilidade das mulheres e a sua liberdade, exigindo escolhas: evitar certos pontos de ônibus/linhas, não utilizar o transporte em certos horários, pensar na roupa a vestir e, até mesmo, onde se sentar dentro do ônibus.
Gênero não foi a única variável identificada que influencia na ocorrência e na frequência da violência vivenciada, mas também a localização da instituição e a cor/raça autodeclarada. Mulheres negras, pardas e indígenas que frequentam instituições consideradas “periféricas” são mais vítimas de crime de assédio sexual: 81,3% delas foram vítimas, enquanto entre as brancas das mesmas instituições foram 55,6%.
E aí já tínhamos caminhado para procurar como incorporar abordagens interseccionais nos estudos urbanos. Um primeiro resultado é que fomos convidadas (Paula e Marina) para escrever um capítulo de um livro que cruzava informações obtidas em vários países da pesquisa, com abordagem interseccional. O resultado foi este capítulo, em inglês, do livro Transit Crime and Sexual Violence in Cities, organizado pelas professoras Vânia Ceccato (KTH Estocolmo, Suécia) e Anastasia Loukaitou-Sideris (UCLA Los Angeles, EUA), publicado neste ano de 2020.
Em janeiro de 2019 organizamos o Seminário Cidade, Gênero e Interseccionalidades no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, trazendo referências acadêmicas para esta linha de estudos do LabCidade (veja todos os posts relacionados ao assunto).
Quando se estuda a mobilidade com abordagem de gênero ou interseccional, a sensação de segurança e a experiência de ter sofrido violências e opressões pode ser determinante na escolha de onde ir, com qual modal, a que horas, moldando o comportamento dos corpos que sofrem estas opressões.
Depois do SESC ministramos cursos curtos em outros lugares; Marina deu cursos na Escola da Cidade, em São Paulo, e aulas em um curso chamado “Vem por Aqui“, do escritório Bloco B, de Florianópolis.
O medo moldando comportamentos
A finalização do mestrado, a pesquisa segurança na mobilidade, os debates junto ao grupo Cidade, Gênero e Interseccionalidades e os cursos que ministramos, a levaram para outras direções de pesquisa e atuação. Inicialmente queria construir uma tese de que o medo, substantivo feminino, moldava os comportamentos das mulheres na cidade. Ironicamente, o debate público sobre sua morte deu-se em torno de seu comportamento – se estava dentro ou fora da ciclovia, a motivação de ter saído à noite. Marina estava onde devia estar e escolheu seu caminho, da mesma forma que as mulheres escolhem, muitas vezes pautadas pelo medo.
Inicialmente olhava para as mulheres, para estender para todos nós, a leitura de que nos encerramos voluntariamente em casa, condomínios ou até bairros inteiros murados que nos protegem dos perigos do “lado de fora” amedrontador, que pode ou não estar baseado em dados reais de vitimização. Ora grupos se restringem a circular por territórios construídos por subjetividades que permitem que as expressões identitárias, de cultura, de reconhecimento possam acontecer – como os territórios LGBTQI+, que podem ser considerados como segregados pela sociedade, mas também como auto-segregados. Ora políticas ou regulações públicas, como os zoneamentos morais, bem como ações de repressão do Estado, como as ações policiais, terminam segregando determinados grupos em enclaves criminalizados. E a tese de doutorado trabalhava esta hipótese, de que muitos territórios – que podem inclusive ser “demarcáveis” como já vínhamos trabalhando em aulas e textos -, são construídos a partir de subjetividades.
A interlocução com Diana Helene, como parte de seu estudo sobre territórios da prostituição e zonas morais, vira um podcast no qual Marina Harkot é entrevistadora, e Diana Helene explica as ideias tratadas no seu livro “Mulheres, direito à cidade e estigmas de gênero: a segregação urbana da prostituição em Campinas”, que saiu em 2019 pela editora AnnaBlume.
Por fim, gostaríamos também de convidar a todas/todos para uma defesa-homenagem da FAU USP e da USP à Marina, a ser agendada ainda em 2020, como uma forma de reconhecimento por sua trajetória acadêmica, para que suas ideias sigam no ativismo, mas também nos campos de pesquisa onde transitava.