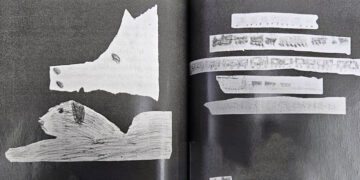O escritor Fernando Boppré diante do espelho olha o passado à luz do que vive hoje em Chapecó, lugar onde vive desde 2016 e onde lançou neste ano o livro “Poço Certo” (Caiaponte Edições), no qual reúne poemas escritos ao longo de uma década. Nascido em Florianópolis em 1983, o historiador, mestre em história cultural, curador e crítico de arte atuou por 15 anos na Capital, onde ajudou a dar dignidade sobretudo ao circuito de artes visuais. Assinou artigos, escreveu em jornais e em publicações especializadas, dirigiu os filmes “Tem Drama na União” (2004) e “Pequenos Desencontros” (2011), deu cursos, fez palestras, coordenou encontros, planejou agendas museológicas, participou de comissões, julgou editais, montou inúmeras exposições, produziu e organizou outras tantas, ajudou a construir autoestimas e cidadania cultural, deu robustez e frescor a instituições como o Museu Hassis e o Museu Victor Meirelles. Em sua nova vida, no Oeste, incorpora as atividades de editor e livreiro, na condição de um dos sócios da Humana Sebo e Livraria, que ele define como um “espaço de encontro entre pessoas e livros que preza pela livre circulação de ideias”.
Nesta entrevista exclusiva, Boppré fala das transformações na própria vida, aliviado porque se livrou do peso das instituições, defende a exemplo dos gregos o bem comum e a vital contribuição social, algo que ele crê estar fazendo em sua nova condição profissional. Além da satisfação pública, a Humana impõe uma rotina e permite focar na literatura, o que sempre desejou. Fala da infância, de sua cidade, de sua atuação e do enfrentamento de uma depressão longa e dolorosa.

Sensível, Boppré é um daqueles raros homens que sente o peso das coisas, se coloca no mundo de modo verdadeiramente presente, onde quer que esteja. Independente do que faça, algo se alarga a partir do seu olhar e sua ação. Em “Poço Certo”, a poesia melancólica, porém não sombria, revela um olho contemplativo, quase uma câmara em zoom que atravessa as paisagens de Santa Catarina, cheia de mínimos detalhes, com a figura humana esmaecida. Apesar de tudo o que enfrenta e “desta matança”, não perde a convicção de que a arte é estruturante na “constituição de uma vida subjetiva para o sujeito, como espaço de recolhimento, resistência e criação. Neste sentido, a arte é fundamental. É o que me mantém vivo”.
Néri Pedroso – O fato de você ser curador, crítico de arte e historiador auxilia ou dificulta a criação poética?
Fernando Boppré – Facilita. Porque me fornece pontos de vistas e vozes distintas. Ter estudado história, sobretudo. Ela me dá chance de viajar no tempo, encontrar figuras excêntricas, ter noção de que a tradição quase sempre é construída pela violência e pela negação sistemática de pontos de vistas heterodoxos. Ou seja, com apagamentos e apartheids. Ela me deu um certo rigor necessário e ético em relação às fontes e ferramentas para a compreensão de conceitos. Creio que as ciências humanas, de modo geral, oferecem condições para este tipo de postura diante do mundo.
É assim que eu penso a curadoria, um encontro entre pessoas que gostam e fazem arte e que decidem trabalhar em um processo colaborativo de criação e comunicação ao público.
No meu exercício, o poema surge tanto do eu quanto do outro. E também se reveste de várias épocas. O poema “Rock”, que aparece em “Poço Certo”, é situado na escala de tempo geológica e é escrito do ponto de vista não-humano de uma rocha, embora a maioria deles se refiram às experiências das duas últimas décadas da minha vida. Aliás, gosto mais quando consigo partir da observação e compreensão do outro. Talvez por isto eu goste tanto do poema “Balneário II – em grupo”, também presente no livro. Leio e quase choro ainda hoje, depois de passar os olhos e a voz tantas vezes por cima dele.
Eu considero a escrita sobre a arte (crítica de arte) uma espécie de terreno fértil por onde posso passear e respirar fundo. Certas experimentações modernas e contemporâneas, que aprendi a olhar e a compreender para além do senso comum, são gestos poéticos necessários e contundentes. Que provocam rasgos na linguagem, criam sentidos para além do normativo. Então, posso me nutrir e também colaborar com estes processos artísticos. É assim que eu penso a curadoria, um encontro entre pessoas que gostam e fazem arte e que decidem trabalhar em um processo colaborativo de criação e comunicação ao público.
NP – Seu vasto currículo demonstra experiências no cinema, no teatro e, de modo mais acentuado, nas artes visuais de SC. De que modo o olhar aprimorado nestas produções se manifesta no seu fazer poético? Ou não tem nada a ver?
Boppré – Não sei se tenho um vasto currículo. Eu acabei indo fuçar as linguagens que gostava de sentir, que me davam extremo prazer no território das artes. E com isto fui em busca de conhecimento científico que pudesse embasar esta minha inclinação.
Adolescente, adorava ir ao teatro. Esperava chegar de noite para poder frequentar o Teatro Álvaro de Carvalho, assistir ao Festival Isnard de Azevedo. Fazia toda uma logística de dormir no apartamento de minha avó, que morava no Centro de Florianópolis, para estar nesses espaços porque morava em São José e depois na praia da Tapera, que eram distantes.
Eu tinha um prazer semelhante ao assistir filmes. Acabei me envolvendo com a feitura de filmes e durante um tempo contribui com a política pública para o cinema na esfera do município de Florianópolis. Assistindo ao que filmei hoje em dia, não gosto muito do resultado. Mas continuo gostando de assistir filmes, embora cada vez mais eu veja menos cinema.

Escrevo pouco e parte deste pouco eu guardo em gavetas e arquivos. Para deixar o tempo passar por eles e decidir mais a frente se valem alguma coisa.
Em relação às artes visuais, eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso de história sobre o artista Hassis, que havia acabado de falecer e deixado um acervo com múltiplas linguagens, que precisava passar por um processo de musealização, sobretudo de conservação preventiva. A pesquisa era para durar seis meses, mas tomei gosto pelo mundo dos museus. Cheguei a dar aulas de museologia. Só consegui me livrar deste “karma” recentemente quando, de modo deliberado, fui me afastando para poder fazer o que, na verdade, sempre quis fazer: escrever.
A escrita sempre foi “o desejo”, para mim, no sentido de que fala Roland Barthes num livro que gosto muito que é “A Preparação do Romance”. Eu escrevo parecendo aqueles pequenos animais roedores que guardam alimentos nas frestas pensando num futuro, que é a sobrevivência. Escrevo pouco e parte deste pouco eu guardo em gavetas e arquivos. Para deixar o tempo passar por eles e decidir mais a frente se valem alguma coisa. Quase sempre eu não consigo aproveitá-los depois. Parece que apodrecem ou simplesmente perdem a relevância depois de certo tempo. Mas a pequena parte que sobrevive me alimenta.
Eu não consigo imaginar um mundo sem escrita. Ela sempre me acompanhou, desde muito pequeno quando escrevia histórias, colocava numa mala e saia pela vizinhança vendendo. Eu devia ter 10, 12 anos. Foi a minha primeira empresa: vender pequenos livros manuscritos e coloridos a mão. Lembro-me claramente de não conseguir escrever em linha reta. Tempos depois, quando precisei escolher algo para fazer profissionalmente, lembro-me de ter escolhido o curso de história para poder ter ferramentas para escrever melhor. Mas eu precisava trabalhar e sempre fui aceitando convites e arranjando necessidades nas artes visuais, no cinema, no teatro. Em algum momento, precisava me focar na literatura e é isso que estou fazendo agora.
NP – Como explica a quase inexistência da figura humana na poesia? A que se deve isso?
Boppré – Eu estou encarnado num corpo humano, é o meu ponto de vista. Não sei se gosto exatamente de mim. Passei por um processo depressivo longo e doloroso que arruinou qualquer ideia de autoestima. Ainda hoje têm dias que não consigo levantar da cama, de tão triste e desesperançado que estou em relação a mim mesmo e à humanidade. Posso dizer que melhorei porque antes eram semanas que ficava sem conseguir sair de casa.
Embora nunca tenha deixado de acreditar que podemos evoluir tanto em termos espirituais quanto em termos sociais. Por isto, me apego tanto aos livros, ao conhecimento. Eu gosto de imaginar um futuro em que a humanidade possa se constituir a partir de noções mais justas, igualitárias e fraternais. Onde a preservação da natureza seja prioridade. Estamos num tempo em que uma falsa necessidade de se “ser livre” eclipsou o vislumbre de relações sociais baseada na igualdade de direitos e oportunidades. Isto é um desastre, é o motor da guerra que vivemos diariamente. É evidente que não existirá justiça e paz enquanto acreditarmos e praticarmos noções como “Estado”, “família” e “propriedade”. Você não vive numa sociedade digna quando uma família tem mais propriedade do que outra, isto antes de nascer, por direito garantido de herança e sucessão. Quando o braço armado do Estado, digo polícia e forças armadas, que hoje voltaram ao poder político, oprime e mata aqueles que, teoricamente, deveriam defender. E quando se começa a ter uma espécie de prazer sádico nesta matança: um presidente que acredita no poder da pólvora e da milícia e não da ciência e dos direitos humanos.
Então, para manter a sanidade, tento ao máximo observar outras formas de vida e também as coisas inanimadas. Porque elas estão fora desta confusão. Parece que elas me trazem uma espécie de consolo para continuar existindo, em seu recolhimento em relação à linguagem, em seu silêncio ancestral. Contudo, no fundo, tudo é sobre esta condição humana. Aliás, a livraria e galeria que abrimos aqui em Chapecó se chama Humana Sebo e Livraria.
NP – Em que momento foi possível afirmar a maturação dos poemas? Precisou do olhar de alguém neste sentido?
Boppré – Poxa, queria muito o olhar de alguém. Mas dificilmente tenho parceria para isso. É extremamente solitário. Para o livro “Poço Certo”, fui reunindo os poemas ao longo de mais de dez anos. Avaliando aqueles que sobreviviam ao longo do tempo. Eu não acho que o tempo apenas atenue sofrimentos e borre lembranças. Ele faz isto, mas também tem o efeito oposto: o tempo pode ressaltar contradições e descuidos em processos criativos, o que no caso da poesia ajuda a dizer o que não precisa ser publicado e o que pode ser mostrado. Como não tinha pressa, pude esperar para finalmente desejar publicar. Foi só ao perceber que talvez eu não tivesse tanto tempo pela frente que senti realmente que era necessário fazê-los circular.
A Humana é uma pequena livraria independente. Como diria Bartleby, um anti-herói criado por Herman Melville, cujo altar está montado em meu espírito faz um bom tempo, eu preferiria não crescer além do que já somos.
NP – Hoje você também é livreiro e editor. Comente a sua vida em Chapecó à luz de sua atuação como um dos sócios da Humana Sebo e Livraria e de crítico de arte, tendo em vista que o espaço aproxima literatura e artes visuais com uma galeria.
Boppré – Acordo todos os dias, tomo café e vou para a livraria. É um trabalho mental e braçal. Estou com um princípio de hérnia de disco por tanto carregar caixas de livros e subir em escadas. No domingo, descanso. Procuro me disciplinar para deixar as manhãs dedicadas à leitura. Afinal, ter uma livraria e não poder ler, não faz qualquer sentido.
A Humana é uma pequena livraria independente. Como diria Bartleby, um anti-herói criado por Herman Melville, cujo altar está montado em meu espírito faz um bom tempo, eu preferiria não crescer além do que já somos. Isto significaria que eu teria que dedicar mais tempo e começar a pensar numa lógica empresarial de negócios que realmente não me interessa. Creio que não corro este risco.
Em algum momento quero voltar a morar no meio do mato. Aí esvaziarei as estantes e fecharei a livraria com a mesma falta de cerimônia com que a abrimos. Gosto de pensar que sou livre para fazer isto
A livraria é um espaço de encontro entre pessoas e livros que preza pela livre circulação de ideias. Ela me protege à medida que cria uma rotina para mim, uma boa desculpa para levantar todos os dias. Ficamos dentro de uma galeria fresca e pacata, bem no centro de Chapecó. Tem um café maravilhoso no lado, o Café Brasiliano, onde troco ideias com o Miguel, que é de Imbituba e, como eu, está aqui perdido no Oeste.
Em algum momento quero voltar a morar no meio do mato. Aí esvaziarei as estantes e fecharei a livraria com a mesma falta de cerimônia com que a abrimos. Gosto de pensar que sou livre para fazer isto. De que a Humana não é uma instituição, que pode acabar ou começar algo novo a qualquer momento. E de que não precisamos de um planejamento estratégico para isto, mas sim de entusiasmo, pernas fortes para poder continuar mantendo o chão e as escadas sob os pés e de uma disposição anímica para conversar com as pessoas que aparecem todos os dias. As conversas que sempre giram em torno de livros me dão uma espécie de sentimento de satisfação pública. Eu penso um pouco como os gregos antigos: até certo ponto da vida você tem que contribuir com a sociedade em que vive. Esta sensação de que estou contribuindo para o bem público ajuda a me sentir bem. Depois de fazer isto, sinto que poderei me retirar e desaparecer nas minhas próprias trevas.
Tenho a parceria amorosa e criativa diária com Janaína Corá, minha companheira, o motivo primordial para eu vir morar aqui. Ela é professora e artista visual. Me ajuda um tanto a me manter atento e forte. Quando cheguei em 2016, nunca imaginaria que um dia abriria uma livraria. Eu comecei a dar aulas de história nas escolas públicas porque foi o único lugar onde me deram trabalho. É difícil ser alguém “de fora”.
Além disso, tenho a amizade e a parceria na curadoria dos livros que entram em nossas estantes do Ricardo Machado, que é historiador de formação e que como eu respira a literatura. Somos dois aquarianos, nos damos muito bem e temos uma certa necessidade de estar sempre trocando de pele. Além disso, a Daiana Schvartz, que divide a curadoria da Galeria Humana com a Janaína é outra figura com quem posso estar sempre trocando ideias, agora mesmo estamos preparando a exposição com obras e arquivos da Elke Hering que abriremos no final do mês. Quem trabalha comigo no dia a dia da livraria é a Marília Amorim, que está se formando no curso de história na Universidade Federal da Fronteira Sul, uma anarquista foucaultiana que me deixa absolutamente feliz em nossas relações de trabalho e amizade.
Sinto que faço tudo o que eu sei e gosto de fazer aqui, com a liberdade que não tinha em Florianópolis, pelo fato de estar sempre ligado às instituições. A Humana não é uma instituição, é uma pequena sala abarrotada de livros, são paredes com obras de arte, é um espaço de criação e é um grupo de pessoas que se reuniram para fazer algo interessante juntos. Eu gosto quando as pessoas entram aqui e a confundem com uma biblioteca.
Isto não quer dizer que eu ame Chapecó. Na verdade, sempre me senti estrangeiro em qualquer lugar. E à medida que o tempo passa em minha vida, este sentimento se acentua. Há uma ideia de trabalho e família por aqui que estou longe de compartilhar. Existe um monumento encravado bem no meio da cidade que se chama “Desbravador”, que carrega um machado nas mãos, que eu odeio com todas as minhas forças. Mas em Florianópolis também existem monumentos à barbárie, como o do bandeirante Francisco Dias Velho segurando um arcabuz, uma espécie de macabro boas-vindas a quem entra na Ilha pela ponte Pedro Ivo.
Acho ótimo que a academia esteja finalmente encarando a discussão anticolonial porque é um ponto de inflexão que devemos aplicar não apenas na nossa relação com a Europa mas também numa crítica radical das relações de poder dentro do próprio território brasileiro.
NP – Olhar atento revela que Capital exerce uma postura colonizadora em relação aos outros eixos de produção no Estado, não dando a devida visibilidade e importância aos artistas. Claro que há curadores (poucos) mais sensíveis que adotam um olhar mais abrangente sob o ponto de vista geográfico. Algumas regiões são bem penalizadas, nas quais incluo Chapecó – raramente citada, embora a cidade tenha uma produção significativa. Convido-te a fazer uma relação neste sentido entre a Ilha e Chapecó.
Boppré – Precisa observação. O imperialismo florianopolitano acontece da seguinte maneira: quem está fora da Ilha precisa lutar muito por espaços e recursos públicos que deveriam ser compartilhados dentro deste limite geográfico que chamamos de Santa Catarina. Que não se resume a uma ou duas cidades, mas a um mosaico cultural. A postura colonizadora é nociva à medida que estabelece uma espécie de ponto cego para outras regiões. Acho ótimo que a academia esteja finalmente encarando a discussão anticolonial porque é um ponto de inflexão que devemos aplicar não apenas na nossa relação com a Europa mas também numa crítica radical das relações de poder dentro do próprio território brasileiro. Aqui tem trabalhos interessantíssimos, como o do Coletivo Inço, por exemplo, formado por Audrian Cassanelli e Diana Chiodelli. Na escrita, uma das coisas que mais me chamou a atenção nos últimos tempos foi o livro “Sagu”, de Mariana Berta. No teatro a Cia. de la Curva e o projeto Nossa Maloca, tocado por Josiane Geroldi são ideias fortes e atuantes no panorama do Oeste. Os Irmãos Panarotto têm feito um trabalho musical e poético de qualidade e quantidade. No cinema, Ilka Goldschmidt e Cassemiro Vitorino mantêm há anos uma produção de documentários maravilhosos que ajudam a contar a história da região.
Eu fico pensando, por exemplo, na falta de representatividade que artistas e a história de outras cidades encontram em instituições estaduais como o Museu Histórico de Santa Catarina, o Museu de Arte de Santa Catarina e o Museu da Imagem e do Som. Uma tarefa que um dia estas instituições terão que encarar é a de implementar uma política de reparação. Incluir em seus acervos, exposições e programações uma quantidade maior de histórias, obras e filmes provindos do Vale do Itajaí, do Planalto, do Norte, do Meio Oeste, do Oeste e Extremo Oeste e do Sul do Estado.
Um manual de instruções precisa existir, a poesia não. Eu gosto deste lugar do não.
NP – Pensando em noções de pertencimento, hoje a que lugar você pertence?
Boppré – De quem, desesperadamente, acredita na necessidade de termos justiça social e igualdade de direitos. Alguém que se sente muito à vontade na linguagem poética, nesta atividade cada vez mais rarefeita que é escrever poemas que não têm a mínima necessidade de existir. Um manual de instruções precisa existir, a poesia não. Eu gosto deste lugar do não. A utopia me interessa também, já que me faz pensar no impossível que, aos poucos, por conta da aspereza e da crueldade do plano do real, começa a ser pensada como necessidade. Teremos que inventar um novo mundo a duras penas, sobre os destroços deste.
NP – Há algo do qual se arrependa na trajetória de historiador, crítico, curador, chefe de serviço do Museu Victor Meirelles/Ibram/MinC?
Eu imaginava um lugar com relações mais horizontais. A estrutura organizacional do museu espelha o escalonamento social absolutamente desigual que temos na sociedade brasileira. Eu sonhava com algo diferente porque, afinal, estamos falando de um museu de arte, que abrange a arte contemporânea e isso significa que deveria estar aberto à instauração de outros modos de viver e de se relacionar. Agora, o que mais me incomoda hoje é saber que pouco fizemos pela inclusão efetiva da parte historicamente excluída da sociedade brasileira. Conseguimos fazer isso em parte: esboçamos um trabalho com a comunidade trans, recebemos visitas de comitivas indígenas, realizamos programações voltadas à periferia. Mas não transformamos isto em atividades sistemáticas e frequentes, muito menos em política pública do museu para essas comunidades.
NP – Por que o público das exposições de artes visuais diminuiu tanto nos últimos anos?
Boppré – Porque se especializaram demais. Voltaram-se excessivamente para o público que já frequentava exposições. É mais ou menos o que acontece com os hábitos de leitura no Brasil de hoje: estima-se que apenas 5% da população tenha efetivamente a leitura como parte constituinte de sua vida. Ao invés de se buscar cativar parte dos outros 95% que não leem, insiste-se em se conversar com apenas os 5% que leem. Aí se fica inventando coisas burguesas e bestas como estes clubes de leitura tipo TAG, que mandam um montão de mimos absolutamente desnecessários, antiecológicos. Dizem que no meio de tudo isto vem um livro junto.
Contudo, em tempos de guerra e pandemia, a arte tem um lugar importante na constituição de uma vida subjetiva para o sujeito, como espaço de recolhimento, resistência e criação. Neste sentido, a arte é fundamental. É o que me mantém vivo.
NP – Afinal, qual é o lugar das artes visuais e da poesia?
Boppré – Muito reduzido. Em termos sociais, cada vez menor. Vivemos um tempo árido. A macroeconomia, a tal da “sociedade de mercado” bocanhou o tempo e a liberdade da maior parte das pessoas. A poesia pede tempo a se perder. E quase ninguém mais está disposto ou pode se dar a aventura de perder tempo.
Contudo, em tempos de guerra e pandemia, a arte tem um lugar importante na constituição de uma vida subjetiva para o sujeito, como espaço de recolhimento, resistência e criação. Neste sentido, a arte é fundamental. É o que me mantém vivo.

Serviço para compra
O quê: “Poço Certo”, de Fernando Boppré
Onde: Na página da editora Caiaponte Edições e na Estante Virtual.
Quanto: R$ 25,00
Serviço para compra
Pequeno aperitivo do livro
Oceano
A vasta e única extensão que chamam
Mar, não passa de Pasto afundado em
Sal e Água, corcunda que no Horizonte
se abaixa; desaparece e faz lembrar que
Lá longe se erguerá
E passará a se chamar
Continente.
Armas silenciosas para guerras tranquilas
Fiapo de rio
Mal cabe o jacaré
Mas sabe o louco
O que poucos sabem
Que entre a mata fina
Reside o crocodilo futuro
E atingirá tamanho
Carapaça e dentes incisivos
Capazes de estraçalhar
Lontras e crenças
Autorretrato
a boca poeirada úmida
corpo oceano
cruzado à vela só.

Néri Pedroso – Formada em comunicação social/jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (RS), vive em Florianópolis (SC). Jornalista, diretora da NProduções, com atuação em projetos culturais. Implantou projetos jornalísticos como cadernos e suplementos especiais, entre os quais “Anexo”, do jornal “A Notícia” e “Plural” no “Notícias do Dia”. É autora do livro “Hassis” (Tempo Editorial) e “Coletiva de Artistas de Joinville: Construção Mínima de Memória” (Fundação Cultural de Joinville) e do catálogo/livro “Superlativa Marina” (Instituto Juarez Machado), entre outros. Integra a Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), a Academia Catarinense de Artes e Letras (Acla) e, como sócia-fundadora, faz parte da diretoria do Museu de Arte Contemporânea Luiz Henrique Schwanke/Instituto Schwanke, em Joinville. Atualmente atua como vice-presidente e integrante do conselho curatorial.